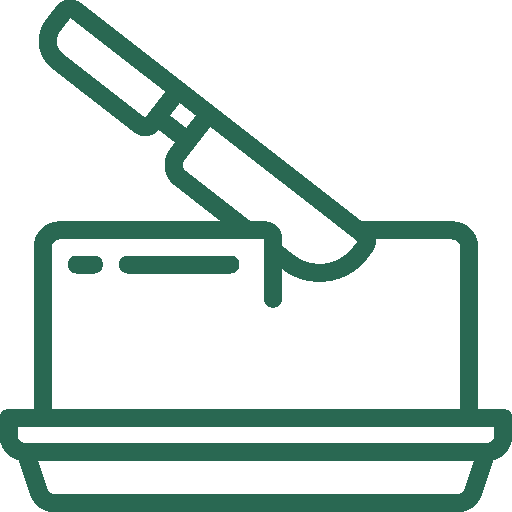Com mais de 100 mil associados entre agricultores, chefes de cozinha, pesquisadores e coprodutores ao redor do mundo, o movimento Slow Food aperta o passo na defesa de temas inadiáveis relacionados à alimentação
Dona Maria do Rosário olha com atenção o filho socando o pilão de madeira. Desde as primeiras horas da manhã ela o acompanha, supervisionando um trabalho de muitas etapas que antes era seu. “Esse pilão era do meu pai, feito de um tronco de jaca”, diz orgulhoso Seu João Pimenta, sendo rapidamente complementado por sua mãe: “ De uma jaqueira que eu plantei perto da casa, mas que cresceu muito e precisou ser arrancada”. Enquanto relembram as histórias de quando o pai ainda era vivo, é possível avistar um vermelho cada vez mais vivo aparecer no fundo do pilão. “Quem vê pronto não sabe como dá trabalho”, provoca Seu João. O agricultor de Seropédica, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, lamenta que pode ser que ele seja o último da sua família a saber transformar as sementes de urucum no pó de colorau, muito usado no interior para temperar e dar cor aos alimentos. Ele conta que, há pelo menos cem anos, este saber vem sendo perpetuado entre seus parentes, considerando que sua mãe, hoje com 84 anos, aprendeu com a bisavó, em Minas Gerais, essa tradição culinária. Apesar do visível orgulho com seu produto encarnado, Seu João lamenta que “o pilão vai ficar de herança, mas só o pilão, porque aprender a fazer o colorau nessa geração aí não tem quem queira aprender”.
o processo para dar seu selo de qualidade
O tempo que Dona Maria e seu João investem na colheita do urucum, no preparo do colorau e na troca de saberes é um tempo de outra ordem, que parece não caber mais no acelerado mundo globalizado, ágil em apagar identidades, culturas e, consequentemente, sabores. Debruçado sobre estes outros tempos, foi que cresceu o Slow Food, hoje um dos maiores movimentos do mundo com campanhas e articulações em defesa de uma alimentação que proteja a biodiversidade e cujo símbolo é um icônico caracol. A correlação quase imediata com seu antônimo – a fast food – é pertinente, pois, de fato, foi diante da inauguração de uma franquia do Mcdonald’s, no coração de Roma, em 1986, que ativistas italianos fizeram um protesto sistematizando seus anseios pela valorização da boa comida e de um ritmo de vida mais lento. O nome mais expoente foi o do jornalista Carlos Petrini, que três anos depois fundou oficialmente a associação sem fins lucrativos. Em bem pouco tempo, as pessoas que se identificavam e orbitavam o movimento perceberam que se tratava de algo mais profundo, necessariamente ligado à política, à agricultura e ao meio ambiente.
Para Ligia Meneguelo, coordenadora de programas e conteúdos da Associação Slow Food do Brasil, histórias como a do colorau de Seu João e Dona Maria são uma forma eficiente de iniciar uma sensibilização para os temas que trabalham na associação: “O mais simples é a afetividade conectada à comida, porque todo mundo tem uma história, uma lembrança, um bolo que a avó fazia, a memória da comunhão da família e passar a reparar nisso tudo é uma proposta do nosso movimento”.

Lígia Meneguelo diz que “Mexer nos nossos privilégios é uma desconstrução lenta, porém possível”.
Desde seu nascimento, o mote principal do Slow Food é a “comida boa, limpa e justa” – boa pela qualidade e o prazer da alimentação, limpa porque o meio ambiente é fundamental e justa porque busca um preço que valorize e respeite os direitos dos trabalhadores no campo.
Foi a partir de campanhas do Slow Food para defender esta tríade que a pesquisadora Bibi Cintrão, associada ao Ceresan – Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) se aproximou do grupo. Bibi já fazia parte de coletivos de agroecologia e de compra coletiva no Rio de Janeiro há vários anos, mas ficou entusiasmada pela maneira como o movimento colocava em prática sua teoria: “Entre diversos encantamentos, me chamou atenção a educação do gosto, a metodologia de desenvolver a percepção dos sabores, sobretudo entre as crianças, dentro de uma sociedade cada vez mais industrial, que padroniza os gostos”. Chamar atenção para a imitação que a comida industrial tenta fazer da natural é uma questão que Bibi acredita ser fundamental e que ela também encontrou na prática da associação: “Esse alimento que não é a comida de verdade, além de todas as consequências para a saúde, trazem perda de sabor, pois o que é artificial nunca tem a mesma complexidade do natural e quando aprendemos a sentir os sabores a gente percebe esta diferença”, analisa.
Em cada cozinha uma trincheira
A pandemia do novo coronavírus fez muita gente olhar com outros olhos a cozinha de casa. Se a paixão por cozinhar não foi acesa em todos os lares, a reflexão sobre a produção de alimentos diante da inadiável tarefa de cozinhar – ou até mesmo pedir comida – todos os dias foi bem abrangente.
Por meio deste espaço particular, o Slow Food acredita que é possível começar a fazer uma conexão essencial entre o prato e o planeta. Pequenas revoluções diárias como realizar as refeições com calma, sem distrações, desfrutar do alimento com a família, desenvolver o gosto pelo preparo dos alimentos e deixar de lado as opções prontas, que prometem praticidade, seriam os primeiros passos. E, seguindo neste caminho, abraçar conceitos e práticas da ecogastronomia, cada vez mais em voga entre chefs de cozinha, dedicados em conectar a ética ao prazer da alimentação. “No enaltecimento da nossa cultura, precisamos entender os cozinheiros como atores sociais importantes, verdadeiros aliados nesta frente”, defende Ligia.
A educação do gosto, citada por Bibi, vem como tempero para toda esta nova leva de cozinheiros, mostrando que é usando alimentos como o colorau de Seu João e Dona Maria que se contribui para sua permanência no tempo. Uma das linhas de frente do Slow Food toca exatamente neste ponto: a Arca do Gosto, um catálogo mundial que mapeia e descreve produtos quase esquecidos, mas que ainda estão vivos e são potencialmente produtivos. No site é possível acessar fotos e informações de um patrimônio extraordinário de frutas, verduras, raças animais, queijos, pães e doces, que vai desde o leite de camela dos pastores Karrayu na Etiópia até espécies de peixes da Ilha Crusoé no Chile. No Brasil, outros produtos encontrados no quintal do Seu João, como o feijão guandu, a bertalha e a ora pro nóbis, também constam do inventário, ao lado de alimentos tradicionais quilombolas e indígenas. “Com o Slow, fui entender os processos de pasteurização, a perseguição aos produtos artesanais e a dificuldade de encontrarmos estes queijos de leite cru na cidade”, conta Bibi, que acabou transformando o tema em objeto da sua tese de Doutorado.

Bibi (à direita) atuando na campanha do Slow Food em defesa dos produtores artesanais de queijos de leite cru – Queijos Brasileiros no Terra Madre / Salone del Gusto – 2012
Para o movimento, cada um que topa o desafio de pesquisar e usar estes sabores locais é um potencial cozinheiro, que por meio de suas panelas denuncia o risco de extinção e faz algo de concreto para protegê-los. Esse consumidor ativo, com direitos, mas também responsabilidades, é o que o Slow chama de co-produtor. Lígia defende que uma atitude sempre possível para esses consumidores é voltar a atenção para as pequenas produções: “Pensar para além dos alimentos frescos, porque às vezes os agricultores não estão tão perto, preferindo pequenas marcas e comércios, não favorecendo grandes redes e fazendo boicote às grandes marcas que se opõem aos interesses sociais”, aponta.
A uma semana do Terra Madre, evento em nível nacional do movimento, Lígia diz que tem visto ações inspiradoras como este “olhar para o local” durante a pandemia, mas que a situação ainda é preocupante. “Muitas comunidades que compõem a rede brasileira do movimento tiveram sua situação de vulnerabilidade acentuada e os impactos para as pequenas empresas, comércios e restaurantes foram muito grandes”, alerta. Nas suas falas se percebe a calma e perseverança de uma boa ativista do Slow, mas também a firmeza de quem sabe que as ações solidárias não podem mais esperar. Sobretudo em momentos como este, vale lembrar a força de uma das máximas do Betinho: Quem tem fome, tem pressa.